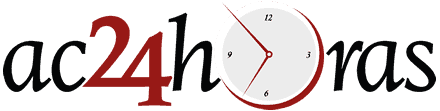Por Cláudia Maria Dadico
A 1ª Guerra Mundial ainda acontecia quando Sigmund Freud escreveu suas “Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte”, texto publicado em 1915, no qual se ocupou em compreender a “miséria psíquica dos combatentes”.
O contexto era inédito para a Europa. A 1ª Guerra Mundial revelou-se um conflito ainda mais sangrento e devastador em comparação com as guerras anteriores, não apenas em razão de suas dimensões continentais, mas, sobretudo, devido ao desenvolvimento tecnológico de novas formas de matar. Daí a preocupação do pensador em compreender os impactos psíquicos e culturais que um acontecimento “que destruiu tantos bens preciosos da humanidade” provocaria nos indivíduos e nas nações.
Assim, além de apontar uma significativa mudança de atitude dos indivíduos em face da morte, destacou a grande desilusão que se seguiu como uma das mais marcantes consequências do conflito.
A “grande desilusão” apontada por Freud tinha dois componentes: “a pouca moralidade mostrada exteriormente por Estados que nas relações internas posam de guardiões das normas éticas, e a brutalidade do comportamento de indivíduos que, como membros da mais elevada cultura humana, não acreditaríamos capazes de atos semelhantes”. Ou seja, ficou evidenciado que as ditas “grandes civilizações ocidentais” agiram de forma desprovida de moral e com grande brutalidade. Não foram reconhecidas “as prerrogativas dos feridos e dos médicos, a distinção entre a parte pacífica e a parte lutadora da população, nem os direitos de propriedade”.
As práticas violentas já cotidianas no contexto colonial foram deslocadas para o contexto europeu, forçando a cultura ocidental, autoproclamada como o “marco zero de orientação para todas as humanidades”, a descer de seu pedestal e, impiedosamente, olhar-se a si mesma, na horripilante imagem projetada num caco de espelho quebrado, recolhido nas ruínas das cidades bombardeadas. Eis a grande desilusão apontada por Freud.
De que forma essa “grande desilusão” nos provoca a pensar sobre o contexto brasileiro atual? Há pontos em comum entre o contexto do final da 1ª Guerra Mundial e o Brasil de 2021? O que diria Sigmund Freud, ao se deparar com aquilo que a parcela “supostamente civilizada” dos brasileiros está impondo, há mais de 500 anos, às populações indígenas?
O espaço de um artigo é insuficiente para narrar cinco séculos de uma guerra sem fim, uma sucessão de atos brutais, violências de todas as espécies e cinismo, praticados contra os povos originários, desde a chegada dos primeiros colonizadores.
Uma pequena amostra dessa vergonhosa história pode ser apreendida na leitura do denominado “Relatório Figueiredo”. O documento consiste no relatório final da investigação, feita em plena ditadura, a pedido do então ministro do Interior, Albuquerque Lima, em 1967.
Ali se encontram expostas as vísceras do antigo SPI, Serviço de Proteção ao Índio, extinto naquele mesmo ano de 1967, substituído pela Funai.
Torturas, matanças de comunidades inteiras das formas mais cruéis e desumanas, submissão a trabalho escravo, roubo do produto do trabalho, violências sexuais, abandono, cárcere privado, desapossamento de terras, deslocamentos forçados, tudo isso encontra-se pormenorizadamente narrado no Relatório que, durante 45 anos ficou desaparecido.
O autor do Relatório é o procurador Jader de Figueiredo Correia, que percorreu mais de 16.000 km, entrevistou dezenas de pessoas e visitou mais de 130 postos indígenas.
Figueiredo registra: “É espantoso que existe na estrutura administrativa do País repartição que haja descido a tão baixos padrões de decência. E que haja funcionários públicos, cuja bestialidade tenha atingido tais requintes de perversidade.”
O “espanto” registrado pelo autor do Relatório, com o genocídio praticado por agentes do Estado e latifundiários, tem certa semelhança com a “desilusão” provocada pela guerra, a que aludia Freud.
Seriam esses os representantes da “civilização” dos colonizadores que viriam trazer os “progressos da cultura ocidental” para os países colonizados?
No entanto, os crimes contra as populações indígenas não cessaram com a extinção do SPI.
A Constituição Federal de 1988, resultado de muitos consensos entre forças sociais em disputa, lutas e construções coletivas, aparentava uma trégua momentânea nesta guerra.
Ao reconhecer os direitos originários dos povos indígenas aos territórios tradicionalmente ocupados, o texto constitucional representou uma importante vitória.
Apesar disso, o sistema de justiça tem corroborado retrocessos ao dar guarida a teses que buscam desconstituir direitos constitucionalmente consagrados, tal como aquele que busca restringir o direito à terra apenas para os povos indígenas que estivessem em sua posse na data da promulgação da Constituição.
O Supremo Tribunal Federal (STF) tem a oportunidade ímpar de reconhecer a inconstitucionalidade dessa tese. Os povos indígenas não nasceram em 05 de outubro de 1988.
Nesta data, muitos estavam vivenciando violências, em situações de deslocamento forçado, tal como retrata, com toda crueza, o já citado Relatório Figueiredo.
Agasalhar a denominada “tese do marco temporal” teria o efeito de “legalizar” os esbulhos e as violências que marcam a guerra sem fim, que nos vitimiza a todos enquanto sociedade e não apenas a população indígena.
Além das responsabilidades que cabem às instituições, a sociedade civil organizada e a imprensa têm prestado contribuições.
Mas é preciso ir além.
Ao compactuar de forma ativa e omissiva com políticas governamentais que inserem em seus cálculos o extermínio, o desapossamento e a reiterada e sistemática violação de direitos duramente conquistados pelos povos indígenas, toda a sociedade se torna genocida.
Isso decorre da naturalização desses crimes, da falta de indignação diante das violências e da ausência de mobilização social. A inércia e a omissão impedem que esse quadro dramático seja, não apenas estancado, mas revertido, mediante o reconhecimento da reparação histórica a que fazem jus esses povos.
A dita sociedade “branca e civilizada” ao recusar a enxergar-se como os herdeiros e herdeiras, filhos e filhas, netos e netas, bisnetos e bisnetas dos caçadores de indígenas, dos “bugreiros”, dos estupradores das mulheres indígenas, dos esbulhadores de seus territórios, embala-se numa conveniente ilusão.
No entanto, se as ilusões podem em alguma medida nos poupar provisoriamente de “sensações de desprazer”, Freud nos adverte que, em algum momento, elas inevitavelmente colidirão com alguma parte da realidade e se despedaçarão, como espelhos partidos pela ação de bombardeios.
Já é tarde, mas não tarde demais, para dissolver nossas ilusões. Não é tarde demais para encarar a horripilante face refletida no caco de espelho encontrado nos escombros da guerra brasileira de cinco séculos.
Se a horrível imagem refletida não nos incomoda, se sua feiura não nos retira do torpor e do imobilismo, aí está a “grande desilusão” que assola a sociedade brasileira.
Não há outra conclusão possível: parodiando o célebre escritor e colunista Marcelo Semer, – os genocidas somos nós.
*Cláudia Maria Dadico é Doutora em Ciências Criminais pela PUC-RS, juíza federal, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) e da Associação Juízes para a Democracia (AJD).