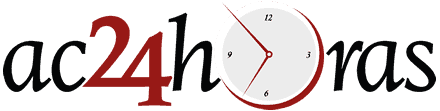Seis da tarde! Acabávamos de chegar a Santa Cruz de La Sierra. Minha irmã e eu estávamos aliviados com o fim da viagem. Durante a ida para Brasileia um taxista bem sensível e oportuno nos tinha dito que a empresa aérea que contratamos era a que mais sofria com acidentes aéreos no mundo.
Não sei se era exagero, mas não nos interessou saber disso, pois as passagens já estavam em mãos. Íamos estudar lá, e viagem como essa faríamos pelos próximos seis anos. Bastava apenas esperar que o sujeito que gargalhou, quando nos disse isso, estivesse equivocado.
No saguão do aeroporto, em Santa Cruz de La Sierra, paramos para comprar alguma coisa, antes que nossa outra irmã pudesse chegar para nos levar ao endereço pretendido. Aviões parados com destino a Miami e Europa davam um tom de força àquele belo centro. Senti-me bem.
Para não me angustiar com a espera, segui para um dessas bonitas lojas de conveniências que existem no aeroporto, cuja principal característica é abusar dos preços. No fundo, elas sabem que cobram excessivamente caro, porque reinam soberanas nesse tipo de espaço.
Sem saber falar espanhol, solicitei algo para comer à moça da lanchonete. Como era de se esperar, ela não compreendeu nada do que eu esbocei.
Treinada para esse tipo de situação, a funcionária ria sem jeito, olhando para os lados, como que buscasse alguém que traduzisse o que eu pedia. Minha irmã, fluente nessa língua, que poderia me ajudar, estava ocupada vendo esses panfletos de turismo, apresentados em três ou quatro idiomas. Não quis incomodá-la.
Quem sai do Brasil pela primeira vez, geralmente imagina que o espanhol é uma língua de fácil compreensão, mudando apenas a terminação do “ão” para o “on”. Mão, na minha cabeça se transformaria em mon, papelão seria papelon, caminhão, consequentemente, caminhon. E por aí vai.
Resolvi desistir, poderia muito bem esperar chegar a minha futura casa. Antes de guardar meus “bolivianos”, um moça que eu não tinha reparado, aparentando ter saído de um grande choro, apresentou-se ao balcão e falou para a garçonete algo que eu percebi que era sobre ou para mim.
Como a vendedora trouxe exatamente o que eu tinha pedido, ficou fácil entender que aquela jovem, com aparência de hippie, falava o meu português.
Senti-me à vontade para lhe perguntar seu nome, enquanto degustava o passatempo, pouco me importando sobre os motivos de seu suposto pranto. Rebecha, esse era o nome dela. Natural da Argentina, da região de Córdoba, a mulher com quem dialogava era loira com cabelos encaracolados. Tinha olhos azuis, era moderadamente alta e vestia roupas despojadas, sem qualquer preocupação de se alinhar com os últimos lançamentos da moda.
Perguntou-me se eu falava inglês. Fraquejei na resposta, pois ainda acreditava que os anos dedicados a essa língua, por meio de livros e gramáticas, poderiam me livrar de um possível apuro. Depois de duas ou três perguntas, feitas rápidas e naturalmente por ela, desisti e disse: no, I don’t speak English.
Compreensiva e me passando a ideia de ser superior, voltou a me responder as perguntas que eu fazia sem parar. Não usou o português, preferiu um espanhol devagar e compassado, deixando-me ainda menor do que eu me sentia. Tive vontade de perguntá-la sobre as razões de não usar minha língua e o porquê do choro, mas não consegui encontrar coragem, poderia estar abusando da bondade e da sensibilidade dela.
Duas semanas depois, já tendo coragem de passear pela quadra do bairro onde nós morávamos, eu a encontrei, sentada em uma praça sobre um pano colorido e tendo ao redor outras pessoas que, pelo que pude perceber, pensavam e agiam como ela. Acho que todos eram artesãos dessas pulseiras e brincos que garantem o jantar de quem vive pelas ruas.
A praça ficava na frente de uma igreja toda feita de tijolos que eu pensei tivessem sido moldados à mão. Era um templo alto, com um ar de antiguidade que lembrava as catedrais medievais europeias que eu via nos livros de História de Ensino Médio.
Convidou-me para fazer parte da aparente festa. Usavam coisas que, tirando a cerveja, não tive coragem de experimentar. Não sabiam que idioma era aquele que eles estavam falando. Na minha cabeça, se assemelhava a alguma língua do Leste Europeu, pois as terminações das palavras eram sempre próximas do “evisk”, “ovisk” “mov”.
Já sentindo os efeitos do vinho, não me contive como no primeiro encontro. Perguntei tudo o que eu queria. Soube que ela tinha pais brasileiros, que voltava da Romênia onde tinha ido sepultar seu grande amor, morto por razões que não quis revelar, mas que pela vida que levavam, suspeitei facilmente qual teria sido a causa.
Uma hora depois, saciado em minhas respostas, bebendo prazerosamente aquela cerveja forte, chegava um rapaz extremamente bonito para participar do evento. Dando prova de a todos conhecer, riu para um, apertou a mão de outro e beijou Rebecha.
Por algum motivo não gostei da cena. Mas calei-me depois que o vi dando a ela uns presentes e solicitando que me apresentassem a ele.
Seu nome era Isaac, esposo de Rebecha. O sepultamento de que me falava, era o de sua família deixada para traz, depois que se dispôs a viver daquela forma.
Por isso não queria usar o português. Por isso se aproximou de mim. Queria esquecer os pais, mas sem perder as gotas de lembranças que podia ter, sempre que me via falando.
Fiquei mal! Usei a desculpa de ter passado dos meus limites e me despedi de todos. Fui para casa pensar no que tinha vivido.
Depois desse dia, nunca mais acreditei em amores herdados. Eles são capazes de nos fazer chorar, de se alimentarem de pequenas migalhas, mas jamais de nos fazer felizes.
Por FRANCISCO RODRIGUES PEDROSA f-r-p@bol.com.br