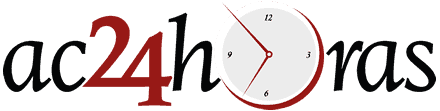Desde os tempos mais remotos, das primeiras formas de convívio, dos primeiros atos em que houve conjugação, o homem sempre se destruiu por causa do ciúme. Deposto de sua condição racional, demitido do grupo dos portadores de sensatez, o homem ciumento é antes de tudo um inseguro.
Os gregos os relataram em suas canções mais pueris. Tragédias foram montadas em seus teatros, dramas foram escritos em seus poemas e até houve em “Megera” a personificação desse sentimento tão forte em nós.
Trazendo aos nossos pares, posicionados em outro lugar do mundo, aquecidos por um sol que nos faz tropical e triste, quem não lembrar das obras de nossos morenos: Dom Casmurro, Alves & Cia, São Bernardo e outros? A leitura “desses tapas” na cara é uma procurada forma de expressar as evidências de que temos medo.
Não há menor nem maior. Não há o benéfico nem o maléfico. Todo ciúme destrói. Todo ciúme tortura. Todo ciúme afasta qualquer ensaio de um amor verdadeiro. Todo ciúme atrai a infelicidade de qualquer relacionamento. Aprender a viver com ele, não faz dele algo indispensável.
Era o verão de 2002, saíamos de Mount Desert Island rumo ao desconhecido. Tínhamos brigado à noite passada e, tirando as poucas palavras necessárias, não nos falávamos na viagem. Por mais que eu tivesse vontade de terminar com aquilo, dizer para ela que o mundo começava agora, eu bem sabia que ela não aceitava o relato do meu passado e as coisas que vivi antes dela. Doía saber que eu tive e fui de outras tantas mulheres.
Perto de Southwest Harbor, ela pediu para que eu parasse em um posto de gasolina, necessitava ligar para um amigo meu de Nevada que estreava uma peça sobre as fraquezas humanas. Era um roteiro interessante que debochava de nossas mais mesquinhas vontades. Um aviso, um alerta aos seres humanos que guardam seus males reprimidos no peito para chorarem junto ao travesseiro.
Nessa peça, o ator principal era um mexicano vestido de cinderela, pronto para cruzar a fronteira americana à meia noite. Devido aos tiros da guarda da fronteira que desenharam suas vestimentas, a obra termina com a vítima gritando bem alto: vamos correr, aqueçam os carros, liguem os motores, pois é chegada a hora de partir.
Os soldados americanos se aproximavam do moribundo e perguntavam: meu Deus, seus sapatinhos não calçam nem mesmo os menores ursos daqui. Tome dou-lhe vinte dólares para me responder quem tem as chaves dos veículos e revelar o que trazem de ilegal nos bolsos.
Os aplausos, as lágrimas da plateia, os uivos emocionados, as gargantas roucas de tanto gritarem bravo, bravo, abafam a última frase do artista: “Trago dentro tanto sol, que já tanto sol me cansa. Eu não conheci na minha infância sombra, somente assoalho” (Alfonso Reyes).
De volta ao carro, as marchas se sucediam e faziam barulhos para solidarizar-se com o ronco do motor que se sentia sozinho em sua imensidão automotiva.
Lenços sobre o bolso, garrafas de cervejas vazias, vista para um horizonte indefinido, tudo nos cerrava os olhos, pois o sol e os comprimidos, tomados inconscientemente, nos enchia a face. Perto de uma curva que deixava um desfiladeiro perigoso, ela me tocou o ombro e disse: acho que não preparamos ainda nosso vestido.
Ela ria para mim e, dando prova de que não perdoava suas crises emotivas reprovou-me dizendo: as vestes serão rasgadas por grandes ursos.
Sob a suave dança do espaço, flutuando na imensidão do mundo, morremos. As bestas limparam o solo de nossos resíduos. Nem era chegada a nora de partir. De todos os males que o ciúme traz, a aparente perfeita definição das coisas é sua maior criação, é seu maior engano.
A diferença entre o bicho de pelúcia e o real não está na ofensividade do segundo, mas sim na dimensão exata do abraço que podemos dar no primeiro. O ciúme forja a lição. Jamais o aprendizado.
FRANCISCO RODRIGUES f-r-p@bol.com.br